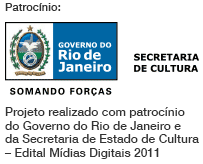A arte de narrar, o faz-de-conta, é tão antigo quanto o momento em que o homem, conscientemente, descobriu que a linguagem, como instrumento (na acepção que lhe dá Ernst Fisher, em seu importante Da Necessidade da Arte), não era apenas um sistema de signos destinado a uma apropriação pragmática e imediatista de representar a realidade (ou, imitá-la, dentro da adaptação superficial que o mundo cristão fez da mimesis aristotélica). Cassirer, em Linguagem e Mito, mormente pela análise do conceito melanésio do Maná, talvez seja até agora quem haja mais bem demonstrado a origem mágica das palavras, do ato de nomear ou da configuração mítica da metáfora nos povos primitivos. E Collingwood, em seus Principies of Art, mediante o exemplo dos rituais religiosos primitivos, quis justamente chamar a atenção no sentido de que a realidade, inclusive no caráter motor para uma atividade futura, tinha como fonte a própria forma do culto e não o objeto do culto em si .
Diante disso, concebe-se que, desde os tempos mais remotos, o instrumental utilitário da palavra começou a perder a sua hegemonia em face daquela gratuidade essencial com o caráter formativo das palavras executado pelo ser humano. Desde aí, também, poder-se-ia então tentar estabelecer uma diferença entre a posição do poeta e a do prosador, embora, até hoje, inexista qualquer metodologia que dê fronteiras claras à distinção. Pode-se dizer que a preocupação fundamental do poeta cinge-se à linguagem, às palavras e ao encantatório de suas inferências formais, enquanto o prosador já está em situação diante dos significados das palavras e o seu encadeamento.
A fabulação, o contar histórias, com todas as variantes nominais e estruturais que atravessou a prosa criativa, era a atitude básica dos escritores cientes da verdadeira realidade ou que desta faziam parábolas, embora conscientes de que a verdadeira realidade-matriz era o próprio material das palavras com que lidavam. Mas o conceito de romance, a experiência sistemática com esse assim chamado gênero só se deu, no Ocidente, de modo intensificado, com a ascendência do mundo burguês, em paralelo com a invenção da imprensa, por Gutenberg, quando ia se tornando possível, cada vez mais, imprimir maciçamente relatos mais longos. É só ver. Antes daquela ascensão, o artista-grande-pensador, mediante aferição de sua obra criativa, era geralmente o poeta, um Dante, um Shakespeare ou um dos poetas metafísicas, John Donne.
A partir do século XIX, com a grande virada do prosador, aquilo mesmo que se chama prosa de ficção passou a sofrer as suas profundas experiências, mutações estruturais, em que o linear do faz-de-conta era insuficiente em face da ambiguidade de instigação do meio. A prosa clássica teve os seus trunfos antológicos, mas, até por coincidência etimológica ou numa intentio retrospectiva, foi com o romantismo que o romance se projetou como forma criativa a encontrar um público. Daí, logo depois do romantismo no romance, com suas variantes temáticas do indianismo, surgiram duas escolas ligadas essencialmente à pesquisa com a prosa: o realismo e o naturalismo.
No dobrar para o século atual, já as especulações com a natureza essencial da prosa começavam a entrar no apogeu da intensidade, cumulando com James Joyce (Ulysses e, principalmente, Finnegans Wake), quando então tudo parecia que ia acabar em matéria de romance, devido ao sobrepor-se do cinema que, como magistralmente frisou Merleau-Ponty, em seu ensaio, O Cinema e a Modema Psicologia, tratava-se da primeira arte a nos propiciar concretamente o comportamento do indivíduo.
A própria crise do romance não tem meros fundamentos formativos estéticos, nem tampouco é fruto da capacidade mais poderosa de o cinema formular o faz-de-conta. A evidência disso é que o mesmo cinema já não apresenta o faz-de-conta linear como base de suas obras de ficção. Essa crise nos remete ao homem em situação na infra-estrutura do mundo industrializado atual, quando, no corre-corre do dia-a-dia, necessita de informações mais rápidas e sintéticas. O dia que o nexo industrial servir ao lazer, o ato lento e silencioso da leitura ganhará, outra vez, o seu lugar mais amplo. Pois, da mesma maneira que é alienante o escritor se ater a formulas velhas, superadas, repisadas de narrativa, de forjar ficção, também o é àquela de julgar que a língua em uso corrente possa estar alijada como matéria de criação. Se dissermos diariamente "bom dia", "obrigado", "alô", "olá", "como vai?", "vou bem", "vem cá", "não vou", torna-se óbvio que é um material válido de ser explorado.
Sartre, em Situations II (O que é a Literatura?) já mostrou com acuidade que a poesia está, em seus fundamentos, ao lado da música, da pintura, da arquitetura. A prosa, concluímos, cai do lado do teatro e da dança - quer dizer, enquanto, no caso da poesia, da música e das artes plásticas, a sua própria essência formativa remete a um universo inorgânico (as estruturas ou formas puras) - o teatro, a dança e a prosa, em seu mínimo múltiplo comum, jamais chegarão a isso. É inimaginável um teatro abstraio ou um balé abstrato (quando a sua essência é a dinâmica de uma presença física do ser humano em cena), assim como a arte da ficção (o ensaísmo não é simplesmente uma arte) não pode abolir do primeiro plano o significado das palavras (o que faz amiúde a poesia, com maior ou menor intensidade).
Se tomarmos o nosso maior prosador, Guimarães Rosa, podemos dizer que ele é poético no estilo, chega a ser de grandeza mallarmaica naquele "aragem do sagrado", "absolutas estrelas" - trecho do Grande Sertão: Veredas - possui uma fanopéia deslumbrante, musicalidade rigorosa, inventiva, instigante, mas tudo isso, em paralelo, concatenado com o fabuloso fabulista que ele é. Até na hora de meditar a respeito da própria etimologia, das raízes das palavras, da sua morfologia ou da ambiguidade significativa, ele ainda está sendo o fabulista, como no notável conto de Primeiras Estórias, do homem que viajava a fim de saber o significado da palavra famigerado.
O prosador em essência, que não é o caso de Rosa, todavia, trabalha arduamente com as palavras, embora num sentido diverso daquele do poeta. Está aí o exemplo de Nelson Rodrigues, que, apesar das metáforas, não está absolutamente agindo como poeta (como no exemplo de Guimarães Rosa, na superestrutura da obra). É o narrador por excelência, motiva-o a ação dramática simplesmente - enfim, quer narrar, contar, relatar, à sua moda, que reflete um método, um estilo extremamente pessoal; e, aqui, sem se preocupar com o problema da linguagem (poética, como já ressaltamos acima), mas com o da língua ou o uso geograficamente setorizado da linguagem. Em suma: as expressões do costume. Esse trabalho, embora mais vinculado à intuição, à espontaneidade, à captação fenomenológica do que à intenção racional e já pré-estrutural do criador, não deixa de ter a sua faixa de especulações formativas necessárias. É só dar um exemplo com o mesmo Nelson Rodrigues: a repetição continuada, reiteração diária de termos e metáforas que ele criou, que sejam, apanhando ao acaso, "o óbvio ululante", "poente de folhinha", "dispnéia pré-agônica", "fauno de tapete", "mau tempo de quinto ato de Rigoletto". Um julgamento apressado daria a idéia de que se trata do lugar-comum. Nada menos exato, de início porque o assim chamado lugar-comum traduz o recurso, o "truque" de um autor, visando, sem inovar, a iludir o público a respeito dessa falta de inovação. No lugar-comum, as palavras e frases até variam, mas a chave formativa é sempre a mesma. Ora, Nelson não procura iludir porque repete frontalmente as mesmas imagens, termos, símiles, metáforas etc. A questão é mais profunda e de maior alcance formativo. Nessa repetição proposital o que ele está querendo é, à custa do repisamento constante, lexicalizar tais expressões, assim como faz o povo, o " inventa-línguas" na expressão de Maiakóvski, ao criar a gíria, por exemplo. E, nisso, eis ainda o mais importante, reabastece um vocabulário a serviço puro da prosa, pois esses termos, na medida em que se aproximam do léxico, perdem o caráter poético de revelação ou inauguração, e ajudam a acionar a fala do fabulista, do contador de histórias, como já o fazem, por exemplo, o "ora bolas!", "deu no pé", "caiu no conto do vigário", "Deus me livre" etc. O poeta, ao contrário, geralmente, quando repete uma palavra ou um termo ou uma metáfora, o faz somente dentro de um mesmo texto, de uma dada estrutura, pois a sua intenção é apenas a palavra.
A prosa é sempre discurso, mesmo que fragmentado ou numa estrutura de montagem; isso, pelo menos enquanto o homem se comunicar dentro do sentido estrutural do discursivo. A poesia, como já o mostrou Susanne Langer, mesmo quando discursiva, não o é em sua apreensão global, posto de lado o agenciamento material ou superficial da sintaxe. Talvez, a partir disso, é que seja possível recondicionar toda uma série de postulações de vanguarda na prosa, que, diante inclusive da voga do Nouveau Roman, ou vogas temáticas, seja do regionalismo ou do psicologismo, precisam ficar libertas, de um lado (já se sabe) do academicismo, do outro, do que é vanguardismo inócuo dentro da vanguarda.
Correio da Manhã
23/04/1967